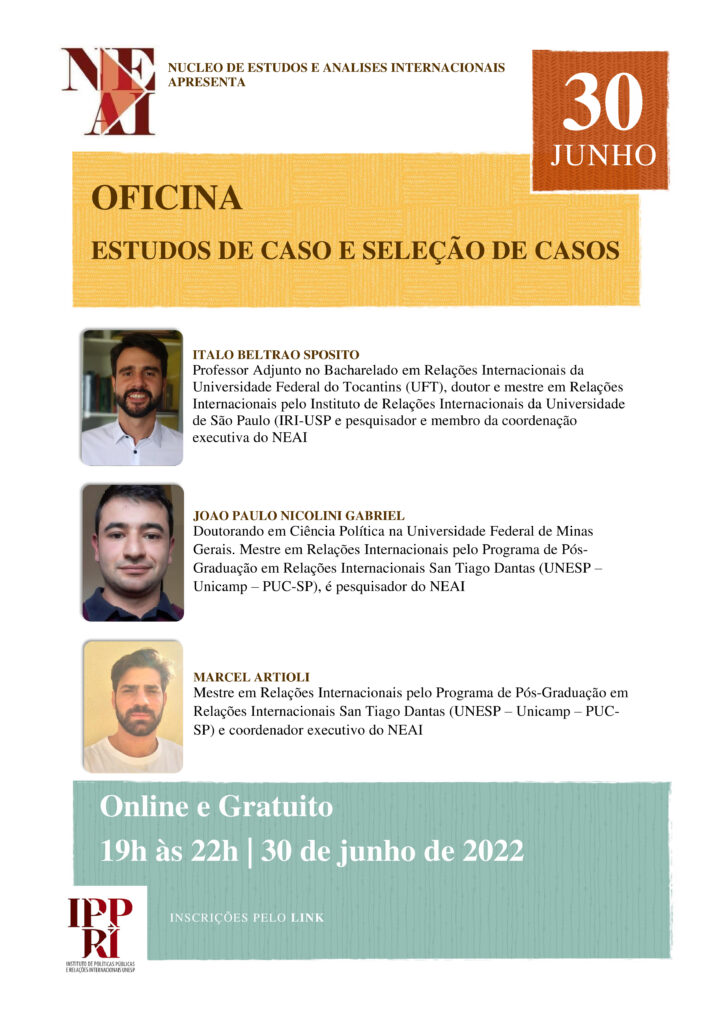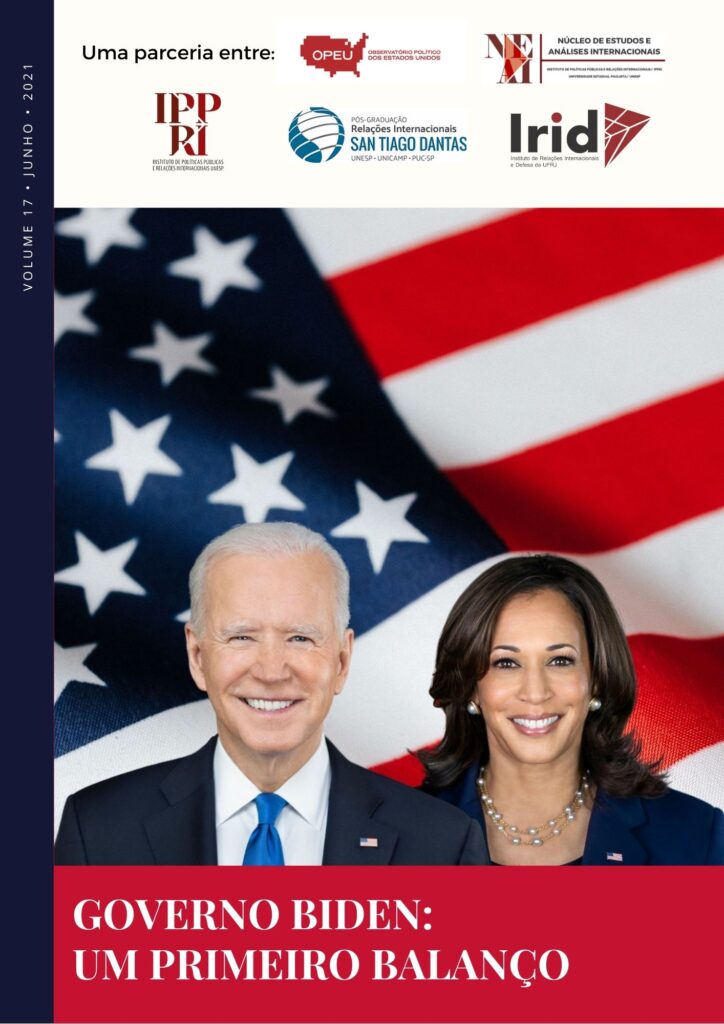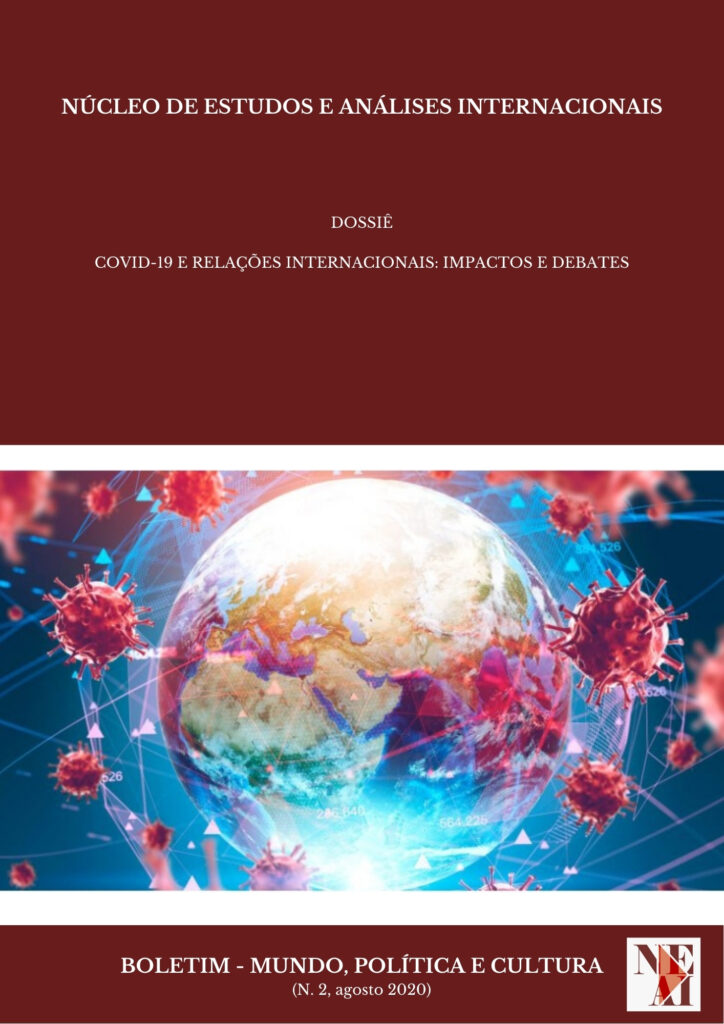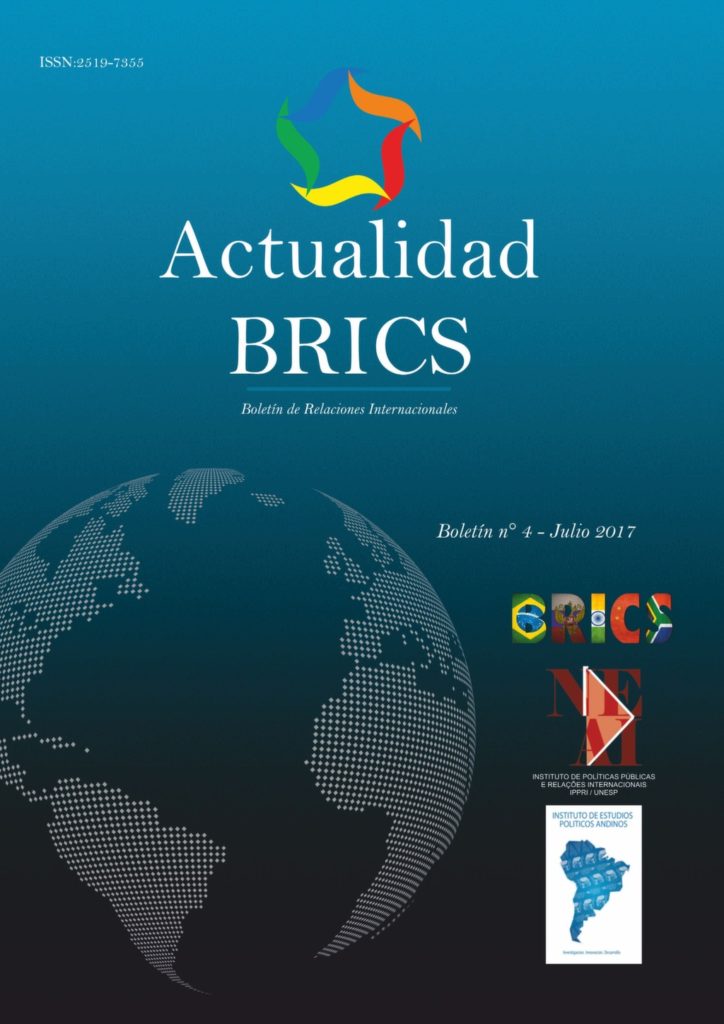Por Renatho Costa
Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
Na década de 1930, quando o cinema surgia como ferramenta poderosa para a difusão de valores políticos e culturais, os Estados Unidos logo tiveram a percepção de que não seria possível permitir que este “instrumento” atuasse a partir de uma perspectiva de liberdade absoluta. Era necessário estabelecer delimitações e um norteamento para suas produções. Na mesma medida em que a população se maravilhava com as possibilidades de ver representadas em uma tela as narrativas (ficcionais e documentais) que até então somente constavam nos livros e nas rádios, os estadistas iniciaram um processo de apropriação da “sétima arte” para que ela fosse utilizada como instrumento de poder ideológico.
O filme se tornou então uma “arma” para as duas vertentes ideológicas que se chocaram na Segunda Guerra Mundial. Da mesma maneira que Franklin D. Roosevelt “comandou” a produção estadunidense, Adolf Hitler estimulou a produção cinematográfica nazista. A finalidade era a mesma, fortalecer e difundir uma visão muito particular de seus Estados. Até porque, conforme destacam os críticos franceses Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, “um filme faz escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, constrói um mundo possível que mantem relações com o mundo real”, ou seja, “constrói um ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo”.
Assim, quando os Estados Unidos entraram na Guerra, Hollywood ganhou a missão de defender os valores americanos e de desconstruir a cultura alemã e nipônica. Fez isso tanto em produções dos Estúdios Disney – com o famoso personagem Pato Donald sendo atormentado por um Führer no desenho de 1942, “A Face do Führer” – como em filmes mais específicos que tinham a preocupação propagandística de criticar os mais diversos aspectos do nazismo. Em 1942, dois grandes atores hollywoodianos, Joan Crawford e John Wayne, protagonizam “Uma Aventura em Paris” (Reunion in France), dirigido por Jules Dassin. A França ocupada é o cenário da trama e esse ambiente proporciona diversas leituras acerca da luta pela liberdade e da participação estadunidense no conflito, além de construir a imagem dos nazistas como seres repulsivos.
Outras produções seguiram idêntico caminho neste período. “Horas de Tormenta” (Watch on the Rhine, 1943) expôs como os nazistas atuavam com o intuito de tolher a liberdade de qualquer cidadão alemão que não concordasse com seu modelo ideológico, mesmo fora da Alemanha. Bette Davis e Paul Lukas interpretaram os protagonistas do filme e Lukas ganhou o Oscar de Melhor Ator. Foi assim também em “A Sétima Cruz” (The Seventh Cross, 1944), com Spencer Tracy e Jessica Tandy, e em “Os Filhos de Hitler” (Hitler’s Children, 1943), com Tim Holt e Bonita Granville, uma denúncia da Juventude Hitlerista.
Na outra ponta do conflito, Hitler criou uma estrutura de propaganda para exaltar os valores alemães e mitológicos de sua liderança. Atuando a partir do cinema documental, Goebbels entendia que a imagem de Hitler deveria ser mostrada diferentemente do modelo heroico dos cartazes de propaganda, uma vez que “filmes de longa-metragem são mais favoráveis ao drama, mas a vida do Führer não deveria ser mostrada como um drama, ou então, o seu mistério desapareceria” (PEREIRA, 2012, p. 254).
Assim, a disputa que se dava na arena internacional extrapolava os campos de batalha e se desenvolvia nas telas de cinema. O poder de Hollywood se combinava com a influência que os Estados Unidos já adquirira a partir do início do século XX, quando abandonou sua política isolacionista e assumiu o papel de protagonista no sistema internacional.
O panorama cinematográfico se altera com o início da Guerra Fria. O novo inimigo a ser combatido a partir de então estava envolto em uma ideologia contrária ao capitalismo. O socialismo soviético, que já não era aceito pelo mainstream estadunidense muito antes desse período, transformou-se em alvo a ser combatido por todas as vias.
Para a América Latina, a produção cinematográfica hollywoodiana se voltou ainda mais para a Política da Boa Vizinhança, e, por conseguinte, reforçou-se a imagem dos Estados Unidos como os únicos que poderiam defender o continente de possíveis intervenções comunistas. Paralelamente, a atuação estadunidense também se fazia presente na constituição de órgãos políticos. Em 1946, por exemplo, os Estados Unidos e os países latino-americanos prepararam o primeiro tratado de segurança mútua da história mundial, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), celebrado em 1947, no Rio de Janeiro.
Se, por um lado, havia a atuação do soft power na construção das relações estadunidenses com o restante da América Latina, por outro, tornava-se notório que não os Estados Unidos abririam mão do hard power se os movimentos de esquerda tentassem entrar em sua “zona de influência”.
O macarthismo, a partir do final da década de 1940, deu sua contribuição para a formação de uma mentalidade anticomunista que desabou muitos integrantes da indústria cinematográfica estadunidense – sumariamente acusados de manter condutas suspeitas vinculadas a comunistas. Na Europa, a criação da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em 1949, ratificou o posicionamento estratégico do bloco capitalista de conter a expansão do socialismo.
As produções cinematográficas passaram por um processo de aprimoramento técnico e se transformaram em um dos mais eficientes meios de difusão da cultura norte-americana. E, ainda que o Código Hays – que determinou o “receituário” do que poderia ir, ou não, para as telas – tenha durado da década de 1930 a 1968, as produções gradualmente foram encontrando uma maneira para burlá-lo e expressar os aspectos da vida estadunidense que poderiam gerar atração para o público exterior.
Este modelo de atuação ficou evidenciado ainda mais com a influência que o governo passou a exercer nas produções hollywoodianas e nas temáticas de alguns filmes que coadunavam com o momento político vivenciado. Bom exemplo é o filme “Patton, Rebelde ou Herói?” (Patton, 1970), dirigido por Franklin J. Schaffner. Ao abordar a trajetória do general George S. Patton durante a Segunda Guerra Mundial, o filme dialogava com o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que naquele momento recebia críticas sempre mais enfáticas. Os reveses e o aumento expressivo de soldados estadunidenses mortos no conflito do sudeste asiático geravam cada vez mais repúdio da população. Mesmo expondo uma imagem controversa de Patton, o filme destacava sua dedicação aos Estados Unidos e a paixão que nutria pela guerra. A abertura do filme traz um discurso de Patton que servia de estímulo para os combatentes, mexendo com o brio deles. Patton, neste discurso, tendo ao fundo uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos, expressa sua relação com o dever de defender o país, valendo-se de uma linguagem dura, às vezes até vulgar, mas que se comunica perfeitamente com seus subordinados e podia ser aplicada à realidade corrente no Vietnã.
Na premiação do Oscar de 1971, George C. Scott, o General Patton, venceu na categoria de melhor ator. Recusou o prêmio, mas seu personagem já tinha cumprido o papel esperado. O filme também conseguiu vencer nas categorias de melhor direção de arte, melhor diretor, melhor montagem, melhor filme, melhor som e melhor roteiro original, tornando-se um dos maiores vencedores do Oscar até então.
Em diversos outros momentos capitais da história das relações internacionais no século XX, o cinema ajudou a referendar a política externa norte-americana. Pode-se argumentar que há um “cinema independente” nos Estados Unidos que não pactua com sua política externa e, dentro de suas possibilidades, consegue produzir filmes que criticam a atuação do país tanto no âmbito nacional quanto internacional. Mas estas produções nem sempre conseguem ter o mesmo destaque e alcance dos blockbusters, e pouco contribuem para que se difunda uma visão alternativa.
A própria Guerra do Vietnã foi um tema de difícil trato para o cinema estadunidense. Quando chegava às telas, era mais para debater os traumas dos ex-combatentes do que as questões de cunho político. Este é o caso, por exemplo, de “O Franco Atirador” (The Deer Hunter), de 1978, dirigido por Michael Cimino. Apesar de ser considerado um dos melhores filmes do cinema mundial, há nele, em certa medida, um maniqueísmo ao mostrar a vida dos combatentes no Vietnã. Os vietnamitas são retratados como seres com valores distintos dos ocidentais, e, por isso, dispostos a utilizar quaisquer táticas de guerra; são racistas e assassinos sádicos, como escreveram Janice Rushing e Thomas Frentz. A situação sofreu alguma alteração com o filme Platoon (1986), de Oliver Stone, diretor que já trilhava uma carreira de crítica aos EUA e que contribuiria para dar início a um processo de revisão histórica – no cinema – do envolvimento norte-americano no Vietnã.
Questões como a polaridade do sistema internacional, as estruturas hegemônicas e os processos de globalização permanecem relevantes na agenda internacional e, por isso mesmo, infiltram-se nos filmes hollywoodianos. Nunca o terrorismo foi tão importante para o cinema quanto no período pós-11 de setembro de 2001. Inúmeras produções passaram a discutir a questão e a securitizar ainda mais o tema. Povos, regiões e países que não coadunam com o modelo de atuação estadunidense se transformaram no “eixo-do-mal” e em “Estados párias”.
A propagação da Guerra ao Terror tornou-se lugar comum em filmes com personagens islâmicos como vilões e nos quais se faz o elogio fácil de tudo aquilo que possa servir para “prevenir” atentados contra a população dos EUA e de seus aliados. Desde a criação do cinema, os Estados Unidos perceberam seu potencial e o incorporaram à sua estratégia de ação internacional. É inquestionável a maestria desta “arma” para fortalecer sua imagem norte-americana em defesa dos valores tidos como universais. O cinema será decisivo para a fixação da ideia de soft power, na concepção de Joseph Nye: “no século XXI o poder repousará numa combinação de recursos brutos e brandos. E, nas três dimensões – a militar, a econômica e a do Poder Brando –, nenhum país é mais dotado que os Estados Unidos”.
Explica-se assim o investimento em filmes como Argo (2012), dirigido por Ben Affleck, cuja intenção primeira era desconstruir a imagem do Irã no cenário internacional. Além das inúmeras lacunas históricas criadas pelo diretor, a estratégia da produção foi utilizar o próprio recurso da narrativa cinematográfica para não deixar o espectador pensar acerca do contexto que cerca a trama: os reféns recolhidos na embaixada canadense precisam a todo custo sair da situação de perigo, pouco importando o que estavam fazendo no país, se era legítima sua ação, quais os interesses dos EUA, etc., como observei em artigo escrito em 2013.
Argo venceu o Oscar de melhor filme em 2013 e ratificou o papel que o Irã deveria ter no sistema internacional naquele momento. O mesmo se pode dizer acerca de “A Hora Mais Escura” (Zero Dark Thirty, 2012), dirigido por Kathryn Bigelow, cuja finalidade principal era expor que a utilização de torturas “deveria ser aceita” se houvesse uma finalidade boa. Para a captura de Osama Bin-Laden – líder da Al-Qaeda – não haveria qualquer dilema moral. Ainda que o debate acerca do uso de tortura pelos Estados Unidos seja trazido como “algo proibido” no filme, ao mostrar o resultado positivo com a morte do militante jihadista, os meios acabam não sendo mais tão questionáveis.
Em suma, o cinema tem poder relevante no sistema internacional. Embora não “declare guerra”, pode auxiliar a legitimá-la. Se ele não exclui Estados, pode deslegitimar sua atuação. A indústria cinematográfica norte-americana é a maior do mundo e a difusão do american way of life continua angariando simpatizantes, reafirmando assim a noção de que a ideologia pesa de modo determinante na estrutura de poder internacional. Por mais que o hard power ainda reine num cenário predominantemente “realista”, os filmes podem moldar o entendimento das pessoas e, quiçá, auxiliar na mudança das agendas. Os super-heróis que nos digam!
* Renatho Costa é Doutor em História Social pela USP e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa. É especialista em Oriente Médio e Cinema. Em sua tese, estudou a influência dos ulemás xiitas no processo da revolução islâmica no Irã. Coordena o Grupo de Análise Estratégia Oriente Médio-África Muçulmana (GAE-OMAM). E-mail: [email protected]
Referências
VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. 5 ed. Campinas: Papyrus, 2008.
NYE JR., Joseph S. O Paradoxo do Poder Americano. São Paulo: Editora UNESP, 2002.
PEREIRA, Wagner Pinheiro. O Poder das Imagens. Cinema e Política nos Governos de Adolf Hitler e Franklin D. Roosevelt (1933-1945). São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2012.