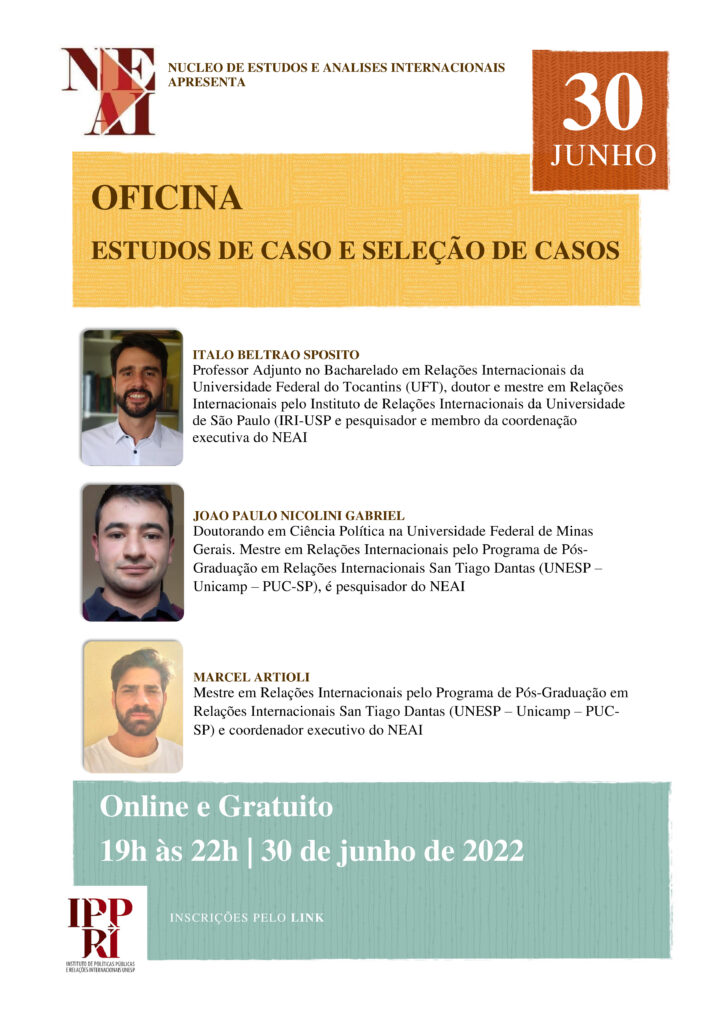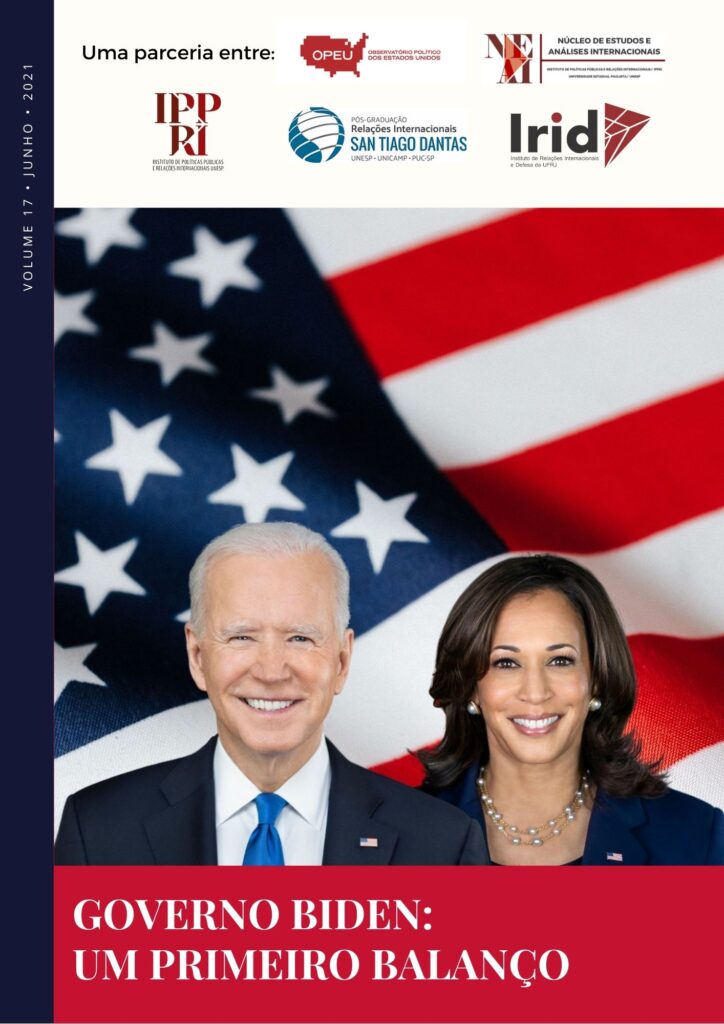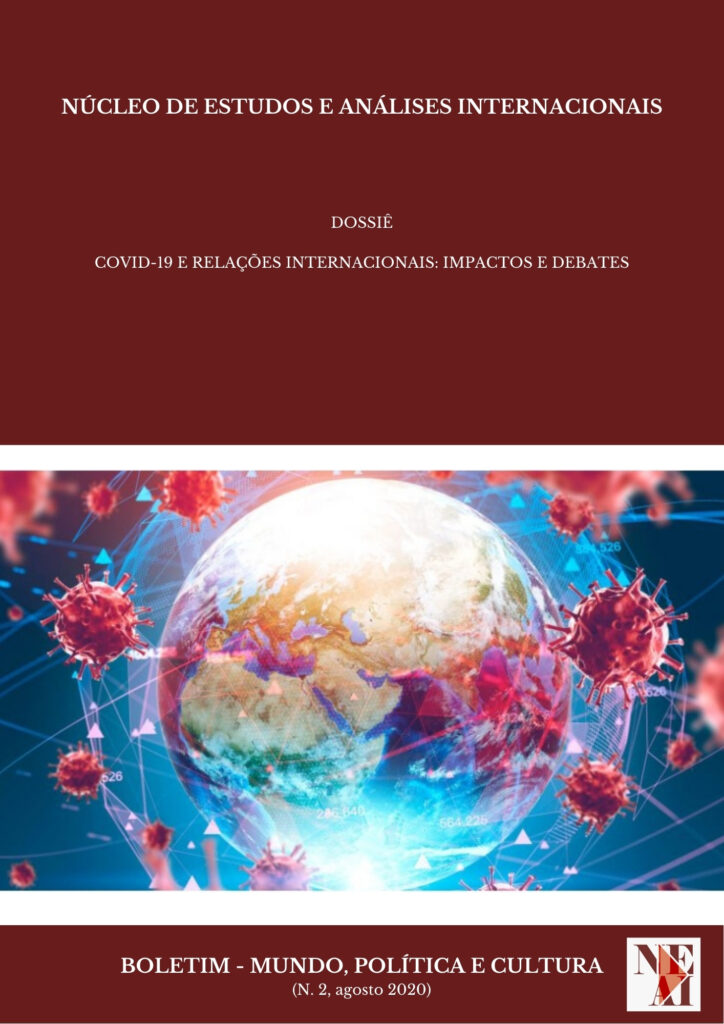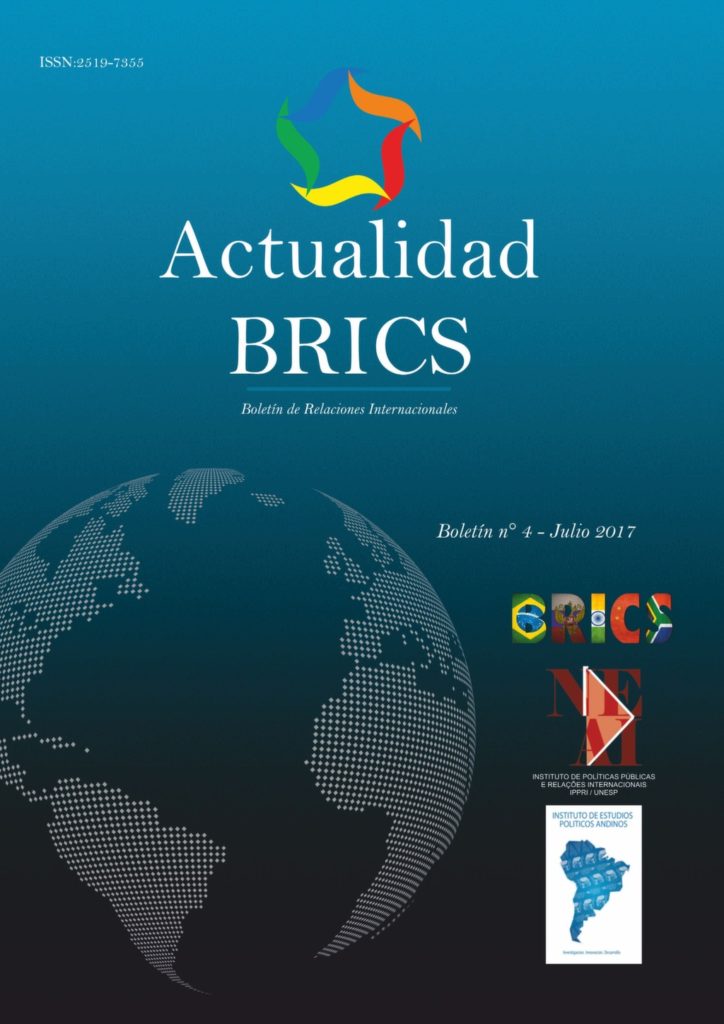Capitalismo globalizado é o nome da época em que nos encontramos. Trata-se de um sistema que, ao se objetivar, implode o mundo que se conhecia e o reorganiza de modo acelerado e imprevisível. O mapa da globalização torna-se sempre mais visível, mas não se sabe bem como navegar em seus mares.
Conhecemos as exigências e imposições da época do capitalismo globalizado e sabemos que sem nos adaptarmos a elas correremos o risco de ficar à margem. As “adaptações nacionais”, porém, são decisões políticas, passam por escolhas a serem feitas pelos cidadãos e são condicionadas pela história particular de cada nacionalidade, com suas determinações últimas, sua cultura, sua relação com o território, suas relações sociais e seus padrões de distribuição de renda, suas necessidades e possibilidades, e assim por diante. Não há um modelo único e universal de assimilação das tendências globais.
Tecnologia intensiva, inteligência artificial, robótica, sistemas inteligentes de produção, economias integradas e cooperativas, cadeias de valor, mercados dinâmicos operando em rede, financeirização, crises constantes, ativismo governamental mas menor força dos Estados nacionais, sistemas políticos em crise, uma cidadania ativa impregnada de ressentimento e “desejo de reconhecimento”, de luta por direitos e pautas identitárias – tudo isso se oferece à observação e explode na vida cotidiana. São coisas que vieram para ficar: ponto sem retorno.
Ganha destaque, nesse contexto, a questão da integração das economias nacionais às “cadeias globais de valor”, ou seja, a conexão das economias aos grandes centros de articulação produtiva, tecnológica e comercial. São centros dinâmicos, que ligam e integram economias entre si, mediante a fixação de padrões produtivos, invariavelmente impregnados de tecnologia intensiva. As economias integradas tendem a produzir em um mesmo diapasão, com parâmetros semelhantes de custo e investimento. A hipótese — formulada com marcada hegemonia dos mercados — é que a sociedade que se isola e fica fora das cadeias de valor passa a correr o risco da estagnação e, por extensão, da fragilidade diante das turbulências da economia internacional. A integração, por sua vez, facilitaria o crescimento econômico e a inovação, com a incorporação interna dos “progressos tecnológicos mundiais”, na medida em que favoreceria o acesso a fornecedores e centros globais de inovação.
Em teoria, o cenário parece claro. No chão histórico concreto, porém, tudo está sobredeterminado por decisões e arranjos políticos, sempre complexos e difíceis.
O mundo age sobre os países, descarregando sobre eles um complexo conjunto de desafios. Não é diferente no Brasil. Recebemos muito do mundo em termos de pressão, de condicionamentos e correlação de forças, de blocos e alinhamentos. Isso tudo limita nossas possibilidades de escolha e dificulta a consideração plena de nossas próprias carências: temos de olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo, e nem sempre há energia suficiente para tanto.
Ação do Brasil sobre o mundo
É preciso também inverter a equação e pensar a ação do Brasil no e sobre o mundo. Como nele podemos interferir? Que contribuições a comunidade política brasileira pode dar em termos de coordenação e governança global?
Isso significa olhar para a articulação entre interesses nacionais, ativismo diplomático e desprendimento internacional, combinando a necessidade de autonomia/soberania com a interdependência inerente à atual ordem internacional. Significa, também, buscar em nossa própria tradição diplomática os vetores que poderão preparar (como têm feito desde que o Estado nacional por aqui se constituiu) nossa atuação internacional. Essa tradição tem sido refratária ao hegemonismo, age com base em valores, no universalismo e no pragmatismo, sem alinhamentos automáticos e buscando tanto a defesa dos interesses nacionais quanto a convivência pacífica entre os povos. É uma tradição que se fixou ao longo do tempo e que tem conseguido se reproduzir no âmbito de governos distintos, cedendo um pouco aqui, um pouco ali, sem perder o eixo.
Da “autonomia pela participação e integração” (FHC) à “autonomia pela diversificação” (Lula), os pontos nodais da política externa foram mantidos. A busca por protagonismo internacional e por cooperação foi preservada. Alterações pontuais e ajustes foram sendo feitos, de modo a acompanhar as mudanças que ocorriam no mundo e no sistema internacional. No fundamental, porém, uma tradição foi preservada. Paulatinamente, de 1990 em diante, incorporaram-se na agenda externa do país a defesa dos direitos humanos, a proteção ambiental, a transição democrática, os direitos sociais e, no campo econômico, as reformas liberais, a abertura e a aceleração da integração latino-americana.
Mas a política doméstica impôs sua marca à política externa, como é usual. A polarização partidária artificial, a dificuldade de financiamento e crise fiscal levaram a uma problematização da atuação externa do país. Zonas de atrito e de diferenciação passam a ser proclamadas em detrimento do consenso diplomático. O desejo de ruptura passou a ser afirmado, adquirindo contornos mais ideológicos e cedendo a “uma marcada preferência por comportamentos que valorizaram as diferenças, em detrimento do esforço consciente para gerar um consenso multipartidário na base das convergências” (Ricupero, 648). O próprio Itamaraty foi cortado pelo dissenso e pelo desejo de diferenciação.
Hoje, quando o país se prepara para uma mudança governamental por via eleitoral, a política externa precisa ser objeto de debate público, como expressão dos interesses nacionais e veículo para a reposição dos eixos sobre os quais se assenta a ação do Brasil no e sobre o mundo.
O estado “crítico” da política interna, no Brasil, complica a formulação de uma agenda nacional de tipo reformador, na qual se possa inserir uma política externa ativa. Produz sobretudo um vácuo de coordenação política, que exacerba bloqueios e limites operacionais, alguns dos quais são bem conhecidos: desorganização e despreparo da classe política; inexistência de uma ideia de país; crise do Estado e indefinições quanto ao Estado de que se necessita; dificuldades da representação democrática; distância entre inteligência técnica e inteligência política.
Consensos ausentes
Tal quadro explica, ao menos em parte, a falta de consenso sobre o que reformar e a falta de clareza sobre como fazer isso. Há ideias e energias soltas no ar, mas falta quem as articule e as distribua no tempo. Torna-se difícil coordenar politicamente as duas transições que se fazem presentes e se nos impõem: a transição “civilizatória” destinada a sintonizar o país com os novos termos e desafios da época histórica, e a transição interna que preencherá o hiato entre o regime posto em xeque pelo impeachment e um novo governo democrático.
Podemos afirmar, por exemplo, que o modelo nacional-desenvolvimentista que se tem reproduzido no país está esgotado e precisa ser ultrapassado; podemos desenhar políticas que em tese expressam um novo modelo (uma economia integrada competitiva, digamos), mas não temos condições de modular e coordenar a adoção desse novo modelo, de forma a garantir sua aplicabilidade e a mitigar seus efeitos sociais de curto e médio prazo. Podemos fixar a reforma educacional como medida estratégica fundamental, mas não sabemos como fazer para traduzi-la efetivamente, ou seja, como converter ideias em realidade efetiva.
Não há, nem sequer no horizonte, um “pacto social” articulado para dar sustentação ao que se cogita em termos de um reformismo democrático bem compreendido. Com isso, o pensamento reformador tende a permanecer aprisionado aos interesses do mercado sem conseguir se abrir para a sociedade: não traz consigo o combate claro à questão social, ficando assim em dificuldade para ganhar legitimidade e poder de persuasão.
Um ano eleitoral pode oferecer excelente oportunidade para que se rompa esse marasmo, que hipoteca o futuro. Políticos, partidos e candidatos deveriam se preocupar menos com seus próprios botões e mais com os passos que se mostram necessários para que o país se encontre consigo mesmo. Nos atalhos singulares que cada um elege para tentar se viabilizar, caminhando de costas para os demais, não se encontram respostas, mas tão-somente a reiteração dos mesmos problemas de sempre.
A saída, como sempre, não depende da proclamação unilateral de agendas particulares, tipo “esquerda” ou “direita”, nacionalismo ou internacionalismo, Estado ou mercado, mas de uma articulação democrática que traga consigo uma ideia renovada de país.